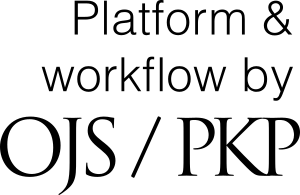“Ser gente”, “estar gente”: a “humanidade” em relação na ontologia dos candomblés.
Resumo
Desde, pelo menos, a publicação da obra seminal de Roy Wagner (1975), e sob um movimento que, sobretudo nos últimos vinte anos, ganha cada vez mais força, a antropologia passa pelo que Amiria Henare, Martin Holbraad e Sari Wastell (2007) chamam “uma revolução silenciosa”, sem que haja, de qualquer parte, a reivindicação de um novo paradigma teórico. Autores diversos, com seus interesses, campos etnográficos e criações conceituais particulares, parecem coincidir no apontamento das insuficiências e assimetrias das partições ontológicas “ocidentais” – natureza e cultura, humanos e não-humanos, real e imaginário etc. – para lidar com os interlocutores nativos de suas pesquisas, especialmente quando se pretende encará-los mais enquanto “parceiros” do que como “objetos” de conhecimento. Desse rastro, minha intenção neste trabalho é, primeiramente, sistematizar a hipótese já lançada por Márcio Goldman (2014, 2015), dentre outros, de que nos
mundos “afroindígenas” – ou, então, “não-brancos” – tendem a prevalecer as ontologias marcadas pelas “multiplicidades”, ao invés das fundadas nos “cortes identitários”. Feita essa breve síntese, pretendo levantar – com base em outros escritos, mas também por inspirações advindas de minhas experiências em um terreiro paulistano – a possibilidade de, nos candomblés, dado esse caráter “múltiplo”, a “humanidade” se construir em posições relacionais que se alteram mediante os agentes cósmicos dispostos situacionalmente, como, por exemplo, nos sacrifícios e possessões.